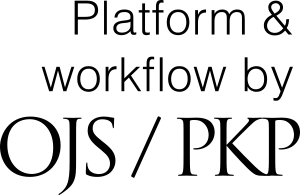TRANSAUTISMO: CARTOGRAFIAS DO SILENCIAMENTO NAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO DE CORPOS DISSIDENTES
Palavras-chave:
Políticas Educacionais Inclusivas., Transautismo., Normatização., Governamento.Resumo
A partir de uma experiência situada e encarnada, esta pesquisa interroga os efeitos das políticas públicas educacionais inclusivas brasileiras sobre sujeitos que escapam às normas de gênero, cognição e linguagem, com foco específico nas vivências de mulheres trans autistas. Embora se apresentem sob um discurso de justiça e equidade, essas políticas operam como estratégias de governamento (Foucault, 2008; 2010; 2012), regulando corpos por meio de critérios cisgêneros, normoneurotípicos e capacitistas. Assim, esta investigação parte da urgência de tensionar os discursos hegemônicos da inclusão escolar, demonstrando como esses instrumentos de gestão estatal produzem exclusões estruturais ao se ancorarem em categorias universais como “aluno” ou “pessoa com deficiência”, desprovidas de interseccionalidade e atravessadas por apagamentos de gênero e neurodivergência. Fundamentada nas teorizações pós-críticas (Meyer; Paraíso, 2012) e na perspectiva foucaultiana, a metodologia adotada não segue procedimentos fixos, mas propõe uma análise crítica e reflexiva dos documentos normativos – como a LDB (Brasil, 1996), o PNE (Brasil, 2014), a BNCC (Brasil, 2018) e a PNEE (Brasil, 2008) – enquanto práticas discursivas que atualizam tecnologias de in/exclusão (Veiga-Neto; Lopes, 2011). A pesquisa se vale do gesto situado como ferramenta epistemológica, reivindicando o saber produzido por corpos dissidentes como legítimo e politicamente necessário. Os resultados parciais indicam que as políticas de inclusão operam sob lógicas universalistas e fragmentadas, ignorando marcadores como raça, classe, deficiência, identidade de gênero e neurodivergência, o que torna mulheres trans autistas ilegíveis dentro da gramática institucional da escola (Butler, 2015). Como destaca Mendonça (2022), tanto o autismo quanto a condição transgênera são historicamente capturados por estigmas e visões patologizantes, inclusive nos espaços especializados, o que contribui para sua invisibilidade nas políticas públicas. Ao investigar as formas pelas quais a inclusão é mobilizada como retórica que esconde práticas de disciplinamento, vigilância e silenciamento, esta pesquisa propõe um deslocamento analítico e político: pensar a inclusão não como uma solução normativa, mas como um campo de disputas que precisa ser interrogado em suas camadas de poder, saber e exclusão. Interrogar os jogos de verdade que sustentam os dispositivos escolares torna-se, assim, um gesto de resistência e visibilidade para corpos que têm sido reiteradamente apagados das promessas democráticas da educação