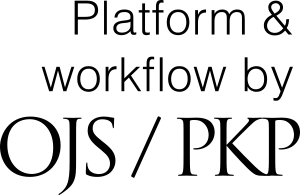As palavras convencem, o exemplo arrasta”: uma reflexão sobre os modelos éticos e estéticos no processo de alfabetização de crianças na educação especial
Palavras-chave:
Alfabetização. Educação especial. Ética. Estética. InclusãoResumo
A presente proposta de pesquisa parte do enunciado provocador “As palavras convencem, o exemplo arrasta”, que não tem a pretensão de buscar respostas fechadas, mas abrir caminhos de investigação/reflexão proposto aqui, neste estudo, por meio das perguntas: Como o professor se apresenta como exemplo ético e estético em sala de aula? Que marcas sua postura deixa no processo de alfabetização? Como suas ações formam ou deformam os modos de aprender e se expressar das crianças com deficiência? Essas questões assumem centralidade no campo da educação inclusiva, com vistas à construção de práticas mais sensíveis, coerentes e transformadoras.
As estruturas estéticas que organizam a práxis pedagógica estão alicerçadas em uma concepção de 'normalidade' que não permite a abertura para o diverso, buscando corrigir tudo aquilo que se apresenta em desequilíbrio com o espaço escolar. Esse espaço foi construído para atender a um único biotipo, geneticamente escolhido, que supõe o que é considerado normal.
Compreender a alfabetização como um processo que transcende o domínio técnico do código escrito exige considerar a linguagem nas possíveis formas de comunicação em sua dimensão humana, social, simbólica e afetiva. Um olhar e uma escuta sensível, capazes de ressignificar modelos estéticos, no sentido de colocar em cena as potencialidades da criança com deficiência e construir ou investigar novas formas de linguagem e comunicação. Nesse sentido, os estudos de Mikhail Bakhtin oferecem importantes contribuições ao reconhecer a linguagem como um ato ético e estético, no qual o sujeito se posiciona no mundo e responde ao outro de forma ativa. Para Bakhtin, o enunciado não é neutro nem impessoal — ele carrega marcas do sujeito que o produz, bem como da situação concreta em que se dá. Assim, na prática pedagógica, a forma como o professor se coloca diante do aluno — seu tom de voz, seu olhar, suas escolhas de linguagem e comportamento — ensina tanto quanto os conteúdos formais.
Ao lado de Bakhtin, os aportes de Lev Vigotski ajudam a compreender como a linguagem, a arte, a imaginação e a emoção são elementos constitutivos do desenvolvimento humano e da aprendizagem. Em sua perspectiva histórico-cultural, o sujeito se forma a partir das interações sociais mediadas, e a educação deve possibilitar a construção de sentidos, por meio de experiências ricas, simbólicas e mobilizadoras. No contexto da educação inclusiva, essa visão amplia as possibilidades de ensino da leitura e da escrita, ao valorizar as múltiplas formas de expressão e a diversidade dos caminhos de aprendizagem, respeitando os tempos, gestos e vozes de cada criança.
Pedro Pagni (2023), ao tratar sobre a formação de professores, enfatiza o valor do exemplo ético como forma de atuação pedagógica, o professor precisa ser coerente entre o que diz e o que faz, assumindo uma postura ética pautada na escuta, na responsabilidade e no afeto. Este, compreendido não apenas como demonstração de carinho, mas como a capacidade de se deixar afetar pelo outro e de afetá-lo intencionalmente, com vistas à construção de vínculos pedagógicos significativos. O afeto, nesse sentido, torna-se uma atitude ativa e deliberada de presença, sensibilidade e compromisso com o desenvolvimento do estudante, especialmente quando este se comunica ou aprende por outras vias que não as tradicionais. Essa coerência entre discurso e prática constitui-se também como um gesto estético — não no sentido de beleza superficial, mas de forma sensível e ética de estar no mundo, corrobora (Pagni 2023, p. 30)
É nessa vida comum, nos agenciamentos produzidos pelas diferenças e pela mobilização de suas forças ingovernáveis que entendemos ser possível ver emergir outro paradigma estético para a inclusão educacional e seus dispositivos.
A proposta metodológica da pesquisa se orienta por uma abordagem microgenética e indiciária, inspirada em Vigotski e Ginzburg, que prioriza a observação de pequenos gestos, interações e marcas sutis deixadas nas práticas pedagógicas. A intenção é investigar como esses elementos ético-estéticos comparecem no cotidiano da alfabetização de crianças com deficiência e que efeitos produzem nas relações de ensino e de aprendizagem.
Assim, assume um caráter formativo e investigativo, voltado à instrumentalização teórica e reflexiva de professores-pesquisadores que reconhecem a alfabetização como um ato ético, estético e político, especialmente quando voltado a sujeitos historicamente excluídos. Mais do que métodos, ela propõe um olhar atento, sensível e comprometido com uma educação verdadeiramente inclusiva. Ainda que, muitas vezes, a estética do ensino da leitura e da escrita permaneça quase invisível, ela exerce uma influência profunda e transformadora no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo quando envolve a criança com deficiência. Essa dimensão estética não se limita à forma ou à aparência das práticas, mas expressa modos de acolher a diferença, criando espaços para que outros sentidos, vozes e experiências possam emergir. Entretanto, observa-se que as avaliações em larga escala continuam desconsiderando adaptações e adequações que tornariam a participação dessas crianças possível, revelando um modelo pedagógico que privilegia a homogeneidade em detrimento da singularidade. Da mesma forma, muitos planos de aula permanecem enrijecidos em uma lógica uniforme, delegando ao estudante com deficiência a tarefa de adaptar-se à proposta da professor, em vez de promover um currículo que dialogue com a diversidade da turma. Nesse contexto, o avanço para um olhar verdadeiramente inclusivo tem ocorrido mais por imposição legal do que por uma ética do reconhecimento que valorize a alteridade. Muitas vezes, esse avanço é atravessado pelo capacitismo, que reduz a diferença a um desvio a ser corrigido ou tolerado, e não a uma potência capaz de reinventar as práticas pedagógicas. Como sugere Pagni, a educação somente se efetiva em sua dimensão ética e estética quando se abre ao encontro com o outro, permitindo que esse encontro desestabilize certezas e reorganize os sentidos do ensinar e aprender. A inclusão, portanto, não se limita a um imperativo normativo, mas convoca a educação em todas as suas dimensões a ressignificar seus modos de existir, reconhecendo no diferente não uma falta, mas a possibilidade de uma experiência mais humana e plural.
Por outro lado, nota-se a escassez de estudos que evidenciem como se concretiza o processo de ensinar a partir do olhar de quem ensina, isto é, como os conceitos e concepções desse sujeito – constituído histórica e culturalmente – se materializam nas práticas pedagógicas e interferem no processo de ensino e aprendizagem. Com turmas cada vez mais heterogêneas, a mobilidade cognitiva do professor emerge como um recurso fundamental para enriquecer e reinventar esse processo, permitindo que ele se mova entre diferentes perspectivas, linguagens e estratégias para responder à diversidade.Nessa perspectiva, o professor que mobiliza diferentes modos de pensar e agir não apenas adapta práticas, mas cria, com seus alunos, um espaço de produção de sentidos, em que a diferença deixa de ser vista como obstáculo e passa a ser condição para o acontecimento educativo. Esse movimento traduz o princípio vigotskiano de que a aprendizagem potencializa o desenvolvimento e se articula à visão bakhtiniana de que todo ato é responsivo, ético e estético. Portanto, a mobilidade cognitiva não é apenas uma técnica pedagógica, mas um exercício ético de abertura ao outro e estético de criação de novos modos de ensinar e aprender. Conclui-se que a inclusão efetiva não se sustenta apenas por normativas, mas pela adoção de uma postura ética e estética que reconheça a alteridade e a mobilidade cognitiva do professor como condição para reinventar as práticas pedagógicas. O encontro com a diferença, como apontam Vigotski e Bakhtin, não fragiliza o ensino, mas amplia os sentidos do aprender e do viver juntos. Assim, a escola se torna espaço de criação compartilhada, onde o diálogo e a responsividade constituem o núcleo do ato educativo.
Palavras-chave: Alfabetização. Educação especial. Ética. Estética. Inclusão.
REFERÊNCIAS:
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: ______. Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história. São Paulo.
PAGNI, Pedro A. Retratos foucaultianos da deficiência e da ingovernabilidade na escola: do governo das diferenças a outro paradigma de inclusão.Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2023.
PINO, Angel. As marcas do humano: às origens da constituição cultural da criança na perspectiva de Lev S. Vigotski. São Paulo: Cortez, 2005
VIGOTSKI, Lev S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998.