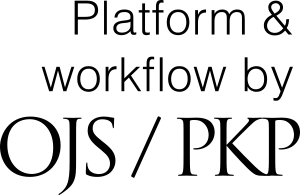CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA ESCOLA COMUM: POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS DOCENTES COLABORATIVAS
Palavras-chave:
Inclusão. Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Práticas colaborativas.Resumo
A inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na escola comum é um desafio contemporâneo que demanda transformações nas políticas educacionais, nas concepções institucionais e nas práticas pedagógicas. Segundo o Censo Escolar de 2024 (INEP, 2025), o número de matrículas de estudantes com TEA cresceu significativamente. Em 2023, foram registrados 636.202 estudantes com TEA na educação básica, número que aumentou para 918.877 em 2024, o que evidencia uma ampliação no acesso à escolarização desses estudantes. A presença física na escola não garante participação efetiva, e a inclusão pode, por vezes, ocultar formas sutis de exclusão. Desta forma, a escola, enquanto espaço normativo e historicamente excludente, se organiza por padrões de normalidade que reproduzem discursos clínicos, classificatórios e capacitistas, que possibilitam a patologização da diferença e assim podem limitar as possibilidades de atuação docente e a construção de estratégias inclusivas, dentre as quais as práticas colaborativas voltadas à singularidade dos estudantes com TEA. Neste contexto, Gräff e Pieczkowski (2023, p. 3) afirmam “[...] que a escola, uma invenção da Modernidade, é regida por um conjunto de normas e segue padrões produzidos socialmente, a partir de uma base historicamente excludente [...]”. Neste contexto, emergem as práticas colaborativas entre professores como uma possibilidade para responder às demandas educacionais de estudantes com TEA. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) orienta que tais práticas sejam desenvolvidas de forma transversal, pautadas no compartilhamento de saberes, na corresponsabilidade e na valorização da diversidade. Ainda que institucionalizadas, tais práticas se inserem em um campo de tensões, onde a atuação dos docentes pode tanto desafiar quanto reafirmar as estruturas normativas que governam os corpos e os saberes escolares. Assim, é fundamental refletir sobre os fatores que influenciam a aproximação ou o distanciamento dos professores em relação às práticas colaborativas no ambiente escolar. Neste contexto, Walker e Gräff (2022) destacam que as práticas colaborativas fortalecem os vínculos interpessoais entre os profissionais da educação, ao mesmo tempo em que ampliam os horizontes de intervenção pedagógica mediante uma racionalidade inclusiva no ambiente escolar. As autoras, destacam, também, que os conceitos de bidocência, cooperação, coensino e colaboração atuam como fundamentos que sustentam práticas colaborativas, e se referem ao trabalho em grupo ou conjunto, como a forma que problematiza a organização dessa modalidade específica de atuação pedagógica. Dessa maneira, a articulação entre esses elementos configura e fundamenta as práticas colaborativas, ao ressaltar uma atuação pedagógica pautada na contestação, desconstrução, reflexão e reformulação pelos sujeitos em diferentes posições de saberes, na corresponsabilidade dos envolvidos e na elaboração coletiva dos processos educativos. Dessa forma, a atuação conjunta pode refletir como uma estratégia que tensiona e ressignifica a estrutura organizacional dessa configuração específica de trabalho pedagógico. Neste contexto, e tendo em vista a complexidade que permeia o fenômeno investigado, esta pesquisa se orienta pelo seguinte objetivo geral: compreender como se constitui a interação entre professores que atuam com crianças com TEA na escola comum, com vistas à inclusão. A partir desse objetivo desdobram-se os objetivos específicos, dentre os quais: identificar características das crianças com TEA; compreender os desafios enfrentados pelos docentes para atuar com estudantes com TEA; analisar situações que favorecem práticas colaborativas; investigar a formação continuada destes profissionais oferecida pelo Estado de Santa Catarina (SC). O estudo teve como ponto de partida vivências pessoais e profissionais da primeira pesquisadora, como mãe e professora de crianças com TEA. A pesquisa foi realizado em uma escola pública estadual em Chapecó (SC), com a participação de 13 professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, no turno vespertino e incluiu titulares de turma (professor regente e segundo professor), um professor do AEE e professores de disciplinas específicas (docentes de Arte e de Educação Física). A abordagem metodológica foi qualitativa, com entrevistas narrativas organizadas em agrupamentos temáticos e examinadas com base na análise de discurso com inspiração foucaultiana. Para Sales (2021) a análise do discurso, investiga os motivos pelos quais algo é enunciado, da forma como é, em determinado tempo e contexto, para compreender as condições que tornam determinado discurso possível. Desse modo, ao utilizar essa abordagem, não se busca atribuir juízo de valor, mas compreender os mecanismos discursivos que sustentam determinadas práticas educativas e concepções sobre a inclusão escolar de crianças com TEA. Possibilita, também, tensionar o que revela os enunciados que naturalizam discursos normativos e que influenciam diretamente nas estratégias pedagógicas adotadas pelos profissionais da educação. Os resultados da pesquisa indicam que as práticas colaborativas entre docentes existem, mas são frequentemente limitadas por condições institucionais, como a escassez de tempo para planejamento, ausência de espaços de diálogo pedagógico e formação continuada restrita a determinados profissionais da escola. Professores regentes, bem como docentes das disciplinas de Arte e Educação Física, relatam não serem contemplados por programas de formação continuada voltados à educação inclusiva, nas quais se insere o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essa lacuna formativa contribui para sentimentos de insegurança, sobrecarga profissional e dificuldades na adoção de práticas pedagógicas inclusivas. Como consequência, muitos desses profissionais buscam capacitações por iniciativa própria, fora do horário de trabalho e com recursos financeiros pessoais. Esses relatos docentes mostram a presença de dispositivos de poder que responsabilizam individualmente o professor pela gestão de sua formação, enquanto o Estado é frágil em garantir condições estruturais e formativas adequadas a todos os docentes. Neste cenário, as práticas colaborativas são registradas em políticas que, embora previstas legalmente, nem sempre se efetivam no cotidiano escolar. Essa busca por conhecimento acerca da inclusão e do desenvolvimento de crianças com TEA frequentemente realizada de forma autônoma e individual pelos docentes, evidencia a configuração do professor como “empreendedor de si”, conceito utilizado por Gadellha Costa (2009), que remete à autogestão da formação profissional diante das lacunas institucionais existentes. Nesse contexto, há uma valorização crescente da autonomia docente no processo formativo, em que o ato de aprender passa a ser conduzido de maneira independente. A ênfase recai sobre a capacidade individual de desenvolver competências, com foco na inovação e na superação de desafios, em detrimento de práticas colaborativas e do ensino formal estruturado. Contudo, apesar dos entraves, os professores acionam contracondutas pedagógicas, através de interações significativas com os estudantes, ao criarem os momentos de coensino, ao adaptarem materiais e compartilhar de observações sobre o desempenho dos estudantes. Essas ações extrapolam o laudo clínico, desafiam prescrições médicas e, as barreiras institucionais. Assim, ressignificam os papéis pedagógicos e mostram que o fazer docente não se limita às normas instituídas. As narrativas dos professores revelam também, que o ensino de estudantes com TEA demanda mais do que conhecimento técnico; exige sensibilidade, criatividade e disposição para aprender com a diversidade. O reconhecimento da singularidade de cada criança, mesmo entre aquelas com o mesmo nível de suporte, é uma dimensão que torna o processo educativo transformador. As lentes foucaultianas contribuem para a compreensão de que as práticas colaborativas são expressões que emergem em meio a jogos de verdade e relações de poder, tensionam discursos normativos e produzem práticas de resistência. O laudo clínico, enquanto tecnologia de saber-poder, inscreve-se na escola como mecanismo de controle, mas é ultrapassado por práticas docentes que reposicionam a diferença como possibilidade em construção. Este estudo cumpre seus objetivos ao evidenciar as tensões, limites e possibilidades que atravessam as práticas pedagógicas na educação inclusiva. Sem pretensão de emitir julgamentos, contribui para o debate sobre as condições institucionais que sustentam ou fragilizam a inclusão escolar, e reforça a necessidade de políticas públicas que assegurem o direito à educação, valorizem a colaboração entre profissionais e promovam ambientes educativos abertos à diversidade.