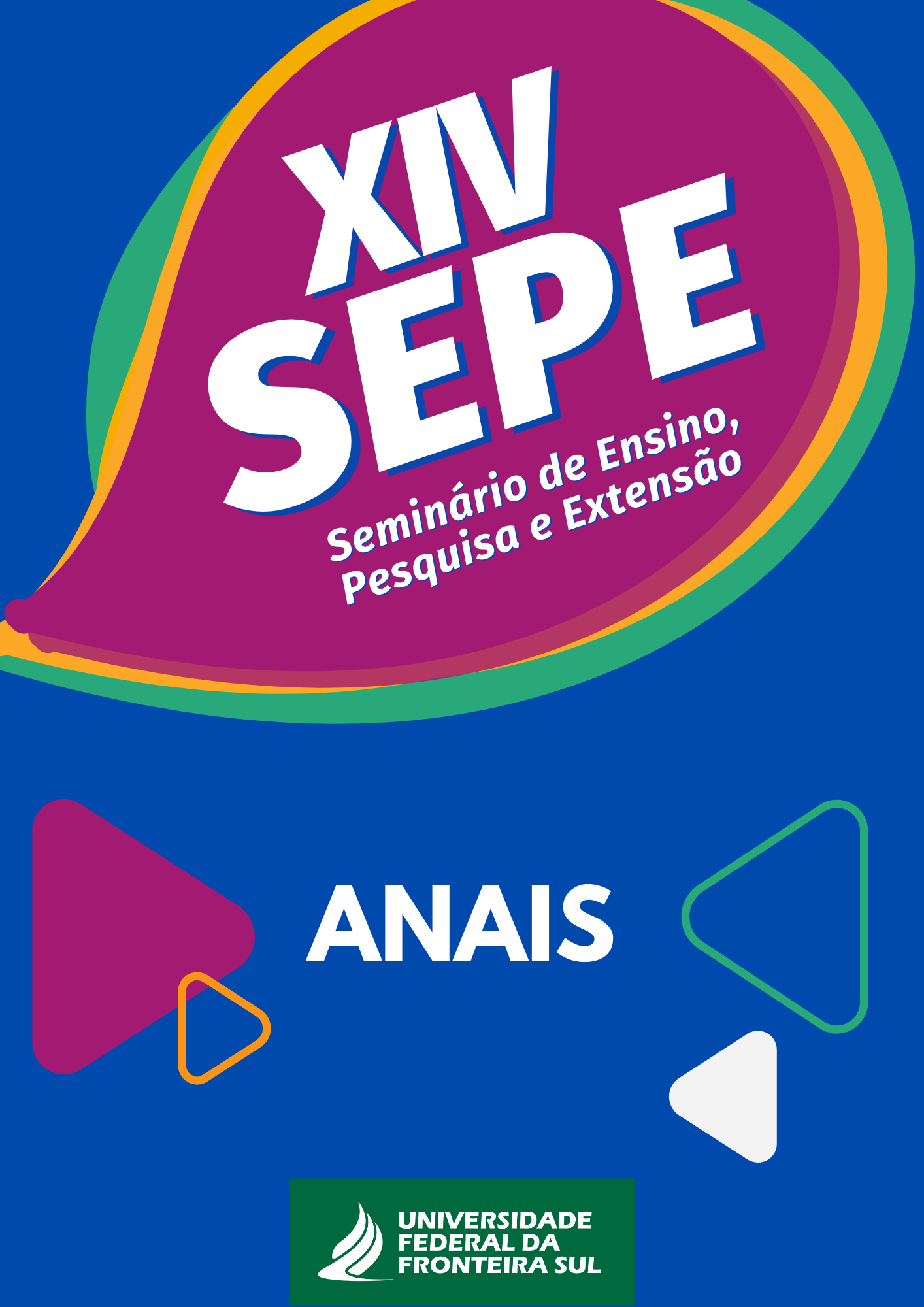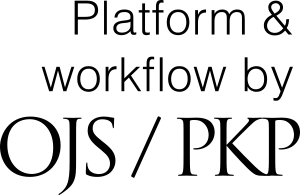Arquitetura Hostil
Palavras-chave:
Arquitetura hostil, Exclusão social, Espaço urbano.Resumo
O presente estudo foi elaborado no componente curricular de Iniciação à Prática Científica da graduação em Arquitetura e Urbanismo desta universidade, inserido na área das Ciências Sociais Aplicadas. A pesquisa aborda a arquitetura hostil como prática urbana que utiliza intervenções físicas para controlar comportamentos sociais e excluir determinados grupos dos espaços públicos, em especial pessoas em situação de rua, jovens e demais indivíduos considerados indesejáveis. O objetivo é compreender as origens, aplicações e consequências desse fenômeno arquitetônico, que ganhou força no século XX, sobretudo no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando o controle social e a segurança passaram a ter maior destaque nas políticas urbanas. Entre os principais elementos utilizados estão bancos com divisórias, espetos em superfícies, spikes, grades e outras barreiras, que, embora frequentemente justificadas como medidas de organização e preservação da ordem, revelam-se dispositivos de exclusão e segregação. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica de artigos científicos e produções acadêmicas que abordam a temática, entre eles Quinn (2014), Kussler (2021), Severini e Nunes (2022), Rampasi e Oldoni (2020) e Rosaneli (2019). Os resultados evidenciam que a arquitetura hostil, em vez de solucionar problemas, intensifica desigualdades, fragiliza a coesão comunitária e reforça processos de marginalização. Observou-se também que tais estratégias impactam o bem-estar físico e psicológico da população urbana, estimulando ambientes de medo, estresse, isolamento social e perda de pertencimento. No campo ambiental, práticas hostis contribuem para a poluição visual, a descaracterização da paisagem e a privatização disfarçada dos espaços públicos, reduzindo a qualidade de vida nas cidades. Ao transmitir simbolicamente a ideia de que determinados indivíduos não são bem-vindos, a arquitetura hostil consolida desigualdades históricas e econômicas, restringindo o uso democrático do espaço urbano e comprometendo o direito à cidade. Diante desse cenário, destaca-se a necessidade de repensar o planejamento urbano e a produção arquitetônica, promovendo políticas públicas que valorizem inclusão, acessibilidade e acolhimento, de modo a fortalecer a cidadania, o convívio social e o bem-estar coletivo. Conclui-se que a arquitetura hostil deve ser criticamente analisada e superada por estratégias que priorizem a dignidade humana e a função social da cidade, reafirmando o compromisso com a justiça social, a equidade urbana e a construção de comunidades mais resilientes e solidárias.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Vitória Maffini, Fernanda Biasi Nogueira, Fernanda Fátima Cofferri

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.