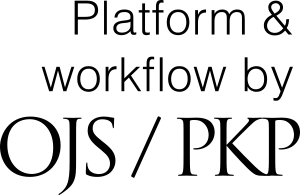Iniquidades do acesso à prevenção, ao exame citopatológico e ao diagnóstico oportuno de câncer do colo do útero na região Norte do Brasil
Palavras-chave:
Atenção Primária à Saúde, Desigualdades de Saúde, Saúde da Mulher , Teste de PapanicolaouResumo
Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) é essencial para os serviços de saúde. Conforme a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a APS se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, funcionando como uma porta de entrada dos usuários para resolver suas questões de saúde, ordenadora e coordenadora das Redes de Atenção à Saúde (RAS) (SUS) (Brasil, 2012). Nesse sentido, seu funcionamento e financiamento ocorrem por meio de indicadores que mensuram o desempenho e diagnóstico local, possibilitando aos gestores desenvolverem planos e estratégias do cuidado da rede (Schönholzer et al., 2023). Entre esses indicadores destacamos o indicador da saúde da mulher que foi mensurado através d a proporção de mulheres com idade entre 25 a 64 anos com coleta de citopatológico na APS atendidas na APS que realizaram ao menos 1 coleta de exame citopatológico do colo do útero no intervalo 3 anos. Sendo que o citopatológico, também conhecido como papanicolau, ou até mesmo preventivo, é um exame de relevante importância para prevenção do câncer de colo do útero (CCU). Esse tipo de câncer, desconsiderando os tumores de pele não melanoma, caracteriza-se como o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, atrás somente do câncer de mama e de cólon e reto, além de ser o segundo mais incidente entre as nortistas, caracterizando-se como um importante problema de saúde pública devido às altas taxas de mortalidade (INCA, 2022). Contudo, a realização e acompanhamento desse exame difere entre as regiões brasileiras, em que muitas Unidades Básicas de Saúde (UBS) não apresentam, por exemplo, estrutura adequada para atender o público, possuem incoerência com o horário do serviço com a população, complicações na capacidade profissional e outras dificuldades. Dessa forma, para compreender o espaço físico, faz-se pertinente uma análise também do tecido social, a fim de entender essas dinâmicas, uma vez que há um passado e um presente na constituição dessas relações, sendo distintas em cada local (Santos, 1980). Em um mundo cada vez mais globalizado, os precários modos de existir dificultam o acesso a tratamentos oportunos e eficazes para as populações vulneráveis, excluindo-as de uma vida digna, que os abastados têm acesso com maior facilidade. A partir disso, muitos trabalhos buscam analisar esse panorama de iniquidades brasileiras, como o da própria região Norte do país, em que cada local possui sua maneira de lidar com as adversidades da população, necessitando de subsídios para o cuidado e outras abordagens estratégicas (Silva et al. 2023). Assim, por meio do entendimento das inúmeras divergências existentes nos espaços de saúde do Brasil, é possível articular políticas públicas e evidenciar como a situação atual do SUS pode ser enfrentada para cuidar das cidadãs, destacando o nível mais substancial ao mais complexo de assistência. Objetivo: Analisar as produções científicas que evidenciam as dificuldades do acesso à prevenção primária, ao exame de papanicolau e ao diagnóstico oportuno de câncer do colo do útero. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão narrativa, com abordagem qualitativa. Para isso, utilizou-se as seguintes etapas: a) levantamento do referencial teórico; b) revisão da literatura e; c) análise descritiva com recorte social e territorial. Optou-se em usar apenas artigos que tivessem sido publicados em periódicos de relevância científica nacional e influência regional, como a Revista Pan-Amazônica de Saúde (RPAS), do Instituto Evandro Chagas, e revistas relacionadas à saúde coletiva ou epidemiológica, como a Revista Brasileira de Cancerologia (RBC), do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Por se tratar de pesquisa realizada unicamente com literatura científica, está consonante com o Art. 1, inciso VI, da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos. Resultados e Discussão: Através das pesquisas, foi possível constatar que a região Norte do país possuía uma insuficiente adesão à vacinação, prevenção primária de lesões precursoras de CCU, visto que a cobertura mínima vacinal precisa atender a 90% da população alvo, e desigualdades regionais na realização do exame citopatológico. A título de exemplo, a população feminina do Norte, de 2013 a 2021, obteve a menor adesão em relação aos outros estados, tanto na primeira dose (68,5%) quanto na segunda dose (50,2%) (Reis et al., 2025). O alcance a informações adequadas acerca dos benefícios da vacina e empecilhos logísticos aparecem como dificultadores da meta. Outro achado epidemiológico está em análises realizadas durante setembro de 2012 a agosto de 2013, que revelaram a ineficiência de municípios da região Norte, pois não alcançaram a meta de cobertura de 80% do exame preventivo de câncer do colo uterino (PCCU), inclusive a capital do Estado do Pará, Belém, (Rocha; Bahia; Rocha, 2016), conforme estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em contrapartida, em 2023, a região apresentou uma tendência de crescimento da cobertura do citopatológico, exame de suma importância para o diagnóstico precoce e melhores prognósticos (Benício et al., 2024). Além disso, a problemática da abrangência da Estratégia Saúde da Família (ESF) também emerge nos estudos, no qual algumas unidades federativas do Norte não demonstram progresso significativo nos últimos anos (Schäfer et al., 2021), mesmo sendo a entrada principal aos serviços de saúde (Sousa et al., 2021). Nesse sentido, apesar dos diagnósticos de CCU do país serem de 43% em estágios iniciais, cerca de 35% ainda são descobertos em graus que requerem mais complexidade no manejo (Reis et al., 2025), situação que é agravada para a população ribeirinha, uma vez que estão mais distantes dos centros urbanizados e, consequentemente, dos serviços básicos de saúde (Costa et al., 2011). Um outro dado importante relacionado à região é que, embora o Amazonas, maior em extensão e segundo mais populoso, tenha sido o primeiro estado brasileiro a iniciar a imunização contra o HPV em 2014 (Sousa et al., 2021; Moura; Codeço; Luz, 2021), o INCA (2022) estima que a incidência de novos casos de CCU, em 2025, será a maior em relação a todas as UFs, com aproximadamente 31,71 casos novos para cada 100 mil mulheres. Considerando esse cenário, segundo estudo realizado no Estado do Amazonas, observou-se que há relação significativa entre a cobertura do exame preventivo e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Norte do Brasil. Resultados indicam que quanto menor o IDH, menor a cobertura deste exame. Ademais, dados apontam que a taxa de analfabetismo em mulheres de 25 anos ou mais exerce grande impacto em relação à cobertura do exame preventivo, sendo que níveis elevados de analfabetismo estão associados a menor cobertura do exame preventivo (Viana et al., 2019). Segundo Garnelo et al. (2018), as políticas públicas para melhorar o IDH são inespecíficas e não seguem adequada continuidade, contribuindo para baixos índices de desenvolvimento e exíguo acesso aos serviços especializados de saúde. A literatura consultada, unanimemente, converge na constatação de que a classe econômico-social está intrinsecamente relacionada com a cor da pele, estando as pessoas negras - pretas e pardas - em desvantagem ao acesso à saúde, se comparadas com a população branca. Soma-se a esses determinantes a dependência unicamente do setor público de saúde, diminuindo as vias disponíveis de cuidado. A heterogeneidade, especificamente a formação territorial dos povos ribeirinhos da Amazônia brasileira, exige meios fluviais para adentrar a comunidades apartadas dos grandes centros urbanos, realçando as demandas e dicotomias do espaço existentes (Costa et al., 2013; Garnelo, 2019). Pensar nessas desigualdades sociais e de saúde permite olhar por outras óticas que extrapolam as hegemônicas, direcionando a razão de existir para o todo, e não para alguns. Bem como o geógrafo Milton Santos (2013) ressalta, manter a cidadania é um processo contínuo em uma sociedade que muito negou esse direito e que, continuamente, enfrenta forças contrárias a esse movimento de dignidade. Levando em consideração o que foi discutido até o momento, para ampliar as reflexões sobre as problemáticas, cabe destacar a urbanização que ocorreu desigualmente entre as regiões, destacando-se o apogeu econômico da região amazônica, impulsionado pelo extrativismo da borracha e gerando economia de subsistência, o que seria insustentável posteriormente. A partir desse período, a organização permaneceu em um molde macrocefálico, concentrando a densidade demográfica e financeira em cidades de superior influência política, mantendo uma estagnação de áreas rurais e ribeirinhas, cenário que apresenta razoável melhora com a conexão rodoviária - não uniforme, diga-se de passagem, tal como a longa e laboriosa Transamazônica -, excetuando o transporte fluvial, e intercambiária no cenário nacional (Santos, 1993). Por conseguinte, ao longo da revisão, averiguou-se que os determinantes sociais e ambientais expressam significativamente desigualdades de saúde na região amazônica, demarcando as inacessibilidades em vigência desde a sua “inauguração”. Para os pesquisadores consultados, torna-se nítido o viés de descaso com a população dessa localidade, principalmente no que diz respeito às mulheres negras e ribeirinhas, cujas vulnerabilidades são acentuadas pela baixa escolarização. Considerações finais: Nesse sentido, percebe-se que as disparidades que afetam a região Norte do país se comprometem consideravelmente com iniquidades sociais, econômicas, geográficas e culturais, de forma contributiva para a menor adesão ao exame. Fatores contundentes, como o alto índice de analfabetismo, infraestrutura insípida de Unidades Básicas, desigualdades geográficas de acesso - especialmente para populações ribeirinhas e rurais - associados de um baixo IDH e questões raciais, que perpetuam esta desigualdade regional e reforçam a negligência contra esses grupos. Portanto, diante do dialogado, é de extrema necessidade a reformulação de políticas públicas e o uso de novas estratégias para garantir o acesso à prevenção, ao exame citopatológico e ao diagnóstico assertivo de CCU, assim como assegurar os direitos básicos à saúde desses grupos marginalizados, do mesmo modo promover um olhar desarmado de estigmas, que busque a prevenção e equidade para uma região historicamente desagregada. À luz do exposto, endossam-se pesquisas que acompanhem o enredo das estimativas, em virtude da emergência situacional relatada neste estudo, e para ampliar as discussões futuras, tendo em vista a pouca difusão de pesquisas científicas relacionadas à temática territorial.