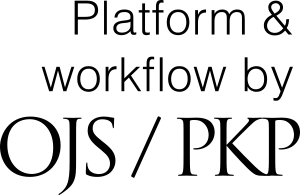Determinantes sociais da saúde e atenção à saúde de grupos em situação de vulnerabilidade: reflexões para a equidade e integralidade no cuidado
Palavras-chave:
Determinantes Sociais de Saúde, Vulnerabilidades em saúde, Equidade em Saúde, Integralidade em SaúdeResumo
Introdução: O cenário brasileiro é marcado por uma profunda diversidade regional e por desigualdades socioeconômicas que influenciam diretamente os perfis de saúde da população. As iniquidades em saúde constituem um dos traços mais persistentes da realidade sanitária no país, exigindo um olhar ampliado sobre os fatores que determinam o processo saúde-doença. Assim, descrever a condição de saúde de um indivíduo é algo complexo, multidimensional e dinâmico. Para caracterizar-se, é necessário recolher informação sobre diferentes aspectos que, apesar de poderem ser considerados individualmente, apenas quando são alvo de uma análise em conjunto fornecem informação para descrever o estado de saúde de um indivíduo. A saúde resulta de fatores interligados com o contexto social, político e econômico, o que reforça o elo entre promoção de saúde e equidade. Nesse contexto, um conjunto de valores contribuem com a melhoria da qualidade de vida e de saúde dos indivíduos e da coletividade, em que se destacam: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema saudável, solidariedade, democracia, cidadania, participação e ação conjunta, justiça social e equidade (Souza et al., 2017). Considera-se que, numa caracterização atual, a promoção da saúde deve ter como foco os Determinantes Sociais da Saúde (DSS), que incluem o próprio indivíduo e seu estilo de vida; as redes sociais e comunitárias; a oferta de serviços como o de saúde, educação, habitação e saneamento; além das condições socioeconômicas, culturais e ambientais (Ribeiro; Aguiar; Andrade, 2018). Nesse sentido, os DSS ganham centralidade como elementos estruturantes que transcendem o campo biomédico, exigindo práticas de cuidado e políticas públicas pautadas na equidade. Além disso, a atenção a grupos em situação de vulnerabilidade requer a compreensão de amplas dimensões que afetam diretamente as possibilidades de acesso, promoção e manutenção da saúde. O conceito de “vulnerabilidade” passou a ser amplamente debatido na área da saúde no ano de 1992, durante a epidemia do HIV, com a finalidade de alcançar muito mais que a patogênese de um agente viral e representou um caminho para intervenções interdisciplinares efetivas (Ayres et al., 2003). Esse conceito envolve aspectos individuais e coletivos que deixam um indivíduo/comunidade suscetível a um agravo ou doença. Pode ser analisado em três dimensões: individual, social e programático (Ayres; Paiva; França JR., 2012). Na dimensão individual, são considerados os aspectos biológicos, emocionais, cognitivos, atitudinais referentes às relações sociais na vida cotidiana do sujeito que o expõem à infecção e adoecimento, avaliando o nível de conhecimento, suas relações, valores e crenças. A dimensão social determina as oportunidades de acesso a bens e serviços, analisando relações sociais, marcos da organização, da cidadania e cenário cultural, considerando aspectos como as relações econômicas, de gênero, de raça, de religião entre gerações, a pobreza e os modos de exclusão/inclusão social. Já a dimensão programática envolve os recursos governamentais necessários para reduzir os níveis de vulnerabilidades sociais e individuais de um indivíduo (Ayres; Paiva; França JR., 2012). A marca da vulnerabilidade é a complexidade, a partir da qual uma série de fatores interdependentes e interatuantes, mesclados e ativos, em cada grupo ou indivíduo, processam saúde ou doença. Além disso, evidencia a dinamicidade e a singularidade do processo de vulnerabilização, pois esta pode ser experienciada de modo diferenciado entre os diferentes sujeitos e grupos, de acordo com os contextos históricos e histórias de vida (Bosi; Guerreiro, 2016). Há uma gama de aspectos envolvidos na produção da vulnerabilidade, muitos dos quais estão fora do alcance decisório individual, como alimentação deficiente, analfabetismo e escolarização precoce, carência de renda, profunda desigualdade social, desemprego, condições de trabalho insalubres, condições sanitárias inadequadas, situações de violência, bem como as relações de gênero, raciais e de poder que perpassam a organização social e as experiências de vida. Assim, indivíduos ou grupos em situação de vulnerabilidade vivenciam influências ambientais, econômicas, políticas e culturais, as quais enfraquecem as relações, as interações e as associações individuais, familiares e sociais tornando-se necessária a discussão dos DSS (Dimenstein; Cirilo Neto, 2020). Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo refletir de que forma os determinantes sociais influenciam a saúde de grupos vulnerabilizados, contribuindo para o debate sobre estratégias intersetoriais de enfrentamento das iniquidades. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo ensaio reflexivo, ancorado em uma análise crítica da literatura científica. A produção do ensaio envolveu a revisão e interpretação de diferentes tipos de fontes, incluindo referenciais teóricos clássicos das Ciências Sociais e da Saúde Coletiva, documentos oficiais — como legislações e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) —, além de estudos científicos recentes que discutem os DSS, as vulnerabilidades em saúde, a equidade e a integralidade do cuidado.A análise foi desenvolvida sob uma perspectiva crítica e interpretativa, buscando evidenciar as inter-relações entre os conceitos de vulnerabilidade social, desigualdades em saúde e os determinantes sociais que influenciam os processos de adoecimento e cuidado. O estudo dá ênfase à dimensão territorial dos processos saúde-doença, compreendendo o território como espaço de produção de vida, de práticas sociais e de disputas pelo acesso a direitos. O ensaio propõe uma articulação teórica entre os princípios do SUS e os desafios contemporâneos da atenção à saúde de grupos historicamente marginalizados, promovendo reflexões para a construção de práticas mais equitativas e integrais no cuidado em saúde. Resultados e Discussão: A análise evidencia que a saúde é fortemente condicionada por fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais e políticos. A partir da compreensão ampliada de saúde expressa na Constituição Federal e na Lei 8.080/1990, e fortalecida pela criação da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), torna-se evidente a necessidade de considerar os DSS na formulação de políticas e ações em saúde, considerando aspectos de cuidado equitativo em diferentes grupos sociais. Segundo a CNDSS, os DSS referem-se a um conjunto de acontecimentos, fatos, situações e comportamentos da vida, que envolve os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Entre as estratégias CDSS aponta para a atuação dos sistemas na busca da equidade, estão a intersetorialidade e a universalidade (Buss; Pellegrini Filho, 2007). Os DSS, no entanto, considerados como um conjunto de fatores que caracterizam as particularidades dos indivíduos e refletem sua inserção no tempo-espaço, constituem uma rede complexa de fatores que ameaçam, promovem e protegem a saúde. Esses fatores inter-relacionam e condicionam o processo saúde-doença na especificidade do indivíduo e na abrangência do modo de vida coletivo e quando agrupados em categorias ou camadas, facilitam a seleção de intervenções adequadas e a formulação de políticas de saúde (Costa, 2019). Estudos analisados apontam que grupos vulnerabilizados como, por exemplo, populações em territórios periféricos, enfrentam problemas relacionados à precariedade de serviços básicos, violência, desemprego, racismo estrutural, desigualdades de gênero e ausência de políticas intersetoriais. Tais condições fragilizam os vínculos sociais e o acesso a bens e direitos fundamentais, reforçando a exclusão e a produção de adoecimentos. A vulnerabilidade, compreendida em suas três dimensões (individual, social e programática), revela-se como uma ferramenta analítica potente para compreender os múltiplos atravessamentos que condicionam a saúde, sobretudo em contextos de injustiça e desigualdade social. Intervenções baseadas nos DSS devem, portanto, apoiar-se na produção de conhecimento, articulação entre setores e ampla participação popular, permitindo o planejamento de ações que respeitem as particularidades dos territórios. Considerações finais: A análise apresentada neste ensaio reafirma a centralidade dos DSS na compreensão dos processos de adoecimento e promoção da saúde, especialmente em contextos marcados por desigualdades e vulnerabilidades sociais. A saúde, longe de ser determinada apenas por fatores biológicos ou pelo acesso isolado aos serviços, é constituída por um emaranhado de dimensões que atravessam o cotidiano dos indivíduos e grupos, como moradia, renda, educação, trabalho, segurança e vínculos sociais. Nesse sentido, os DSS oferecem um potente referencial para repensar práticas de cuidado e políticas públicas que reconheçam as desigualdades históricas e estruturais que afetam determinados grupos populacionais. A abordagem da vulnerabilidade em suas dimensões individual, social e programática permite compreender os múltiplos atravessamentos que condicionam o acesso à saúde e a permanência de iniquidades, exigindo respostas que sejam intersetoriais, participativas e territorializadas. Fortalecer estratégias de enfrentamento das iniquidades em saúde passa, portanto, por reconhecer a potência dos territórios, ouvir os sujeitos, implementar políticas que articulem diferentes setores e garantir os direitos sociais como elementos estruturantes da promoção da saúde. Promover equidade implica, sobretudo, em não tratar igualmente os desiguais, mas garantir condições justas para que todos tenham oportunidades reais de viver com dignidade e saúde.